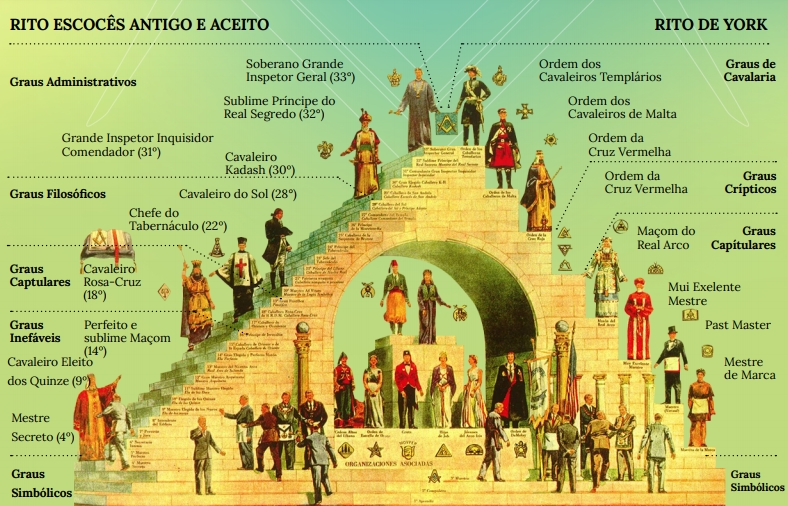Como os laços interpessoais podem servir de modelo para vínculos colectivos? Teorias influentes sobre o surgimento da identidade colectiva de massa na era moderna enfatizaram a transformação das interacções face a face em laços entre pessoas distantes, particularmente no contexto dos Estados-nação (Anderson 1991; Giddens 1991; Taylor 2004). No entanto, os teóricos muitas vezes tomam como certas as características abstractas desses vínculos e ignoram a experiência de continuidade entre vínculos pessoais e colectivos, de modo que pessoas distantes podem vir a experimentar os seus vínculos como semelhantes a interacções face a face e, por sua vez, laços concretos de amizade podem se tornar venerados como instâncias de vínculos cívicos ou nacionais.
Situo estas questões amplas no contexto organizacional incorporado da Maçonaria, uma fraternidade mundial que pratica uma postura elitista de civilização do eu (Hoffman 2007), traduzida numa missão colectiva de construção da sociedade com base num vocabulário político cívico-democrático (Jacob 1991). Embora não seja um movimento nacional, a Maçonaria esteve implicada em lutas nacionais contra o domínio imperial nas Américas e no Oriente Médio (Dumont 2005; Harland-Jacobs 2003) e forneceu um espaço social isolado para negociar uma consciência nacional particularista inserida no contexto cívico (Kaplan no prelo).
Em contraste com a rica erudição histórica da sociabilidade maçónica, o estudo antropológico da Maçonaria é extremamente escasso (para uma excepção, ver Mahmud 2012), e como os membros concebem e praticam os seus laços como uma união colectiva permanece em grande parte sem abordagem. Com base num estudo etnográfico da Maçonaria israelita, examino práticas organizacionais e rituais envolvidos nas transformações da intimidade, explorando instâncias em que distinções comuns entre laços pessoais e formas colectivas de solidariedade se dissolvem ou se rompem.
A divisão público-privada nos estudos de amizade e solidariedade
O surgimento de formas de solidariedade de massa na modernidade tem sido estudado longamente em termos da transformação gradual das interacções face a face em laços entre outros distantes. Após as mudanças na tecnologia, comunicação e educação de massa, as doutrinas intelectuais que ofereciam novas concepções da ordem social moderna, como a esfera pública ou o povo autónomo, gradualmente se espalharam para segmentos mais amplos da população e se tornaram “imaginários sociais” auto evidentes da vida social colectiva, ocupando um meio-termo fluido entre práticas incorporadas e doutrinas explícitas (Taylor 2004). A nação moderna, concebida como uma “camaradagem profunda e horizontal” (Anderson 1991:7), é um caso paradigmático de um imaginário social colectivo (Gaonkar 2002). No entanto, há uma análise académica limitada das maneiras pelas quais esses vínculos colectivos horizontais são construídos e negociados em e por meio de interacções interpessoais concretas e incorporadas. Pelo contrário, os estudiosos muitas vezes pressupõem que os novos imaginários sociais são baseados na abstracção e não na familiaridade dos laços pessoais. Assim, Benedict Anderson refere-se à comunidade imaginada como “uma comunidade no anonimato que é a marca registada das nações modernas” (1991:36), enquanto Charles Taylor caracteriza a “sociedade de acesso directo” desincorporada que substituiu as cadeias pré-modernas de dependência como um movimento “de uma ordem hierárquica de vínculos personalizados para uma ordem impessoal e igualitária” (2004:158).
Esta lacuna académica tem a ver, em parte, com a forma como a amizade no pensamento social moderno tem sido associada principalmente à esfera privada. Allan Silver (1990) delineia a maneira como o liberalismo clássico traçou uma distinção analítica entre laços colectivos, como laços cívicos, enquadrados como alianças formais com premissa de uma simpatia universal entre “estranhos” e laços pessoais associados à escolha individual e emotividade elevada. A compreensão predominante da intimidade na erudição contemporânea também foi moldada por essa divisão público-privada, pressupondo uma transformação “evolucionista” dos padrões de sociabilidade pré-modernos não privados para os modernos padrões privados (Herzfeld 2009: 136). Anthony Giddens (1991), por exemplo, contrasta entre os tipos de laços instrumentais que caracterizavam a vida social na Europa pré-moderna (e nas culturas não modernas em geral) e a propensão nas sociedades ocidentais modernas para praticar formas mais expressivas de “relacionamentos íntimos” e puros, associados à esfera privada.
Este distanciamento da amizade das esferas pública e política foi reexaminado por um corpo diversificado de literatura, que poderia ser dividido em três linhas principais de pesquisa. O primeiro, principalmente antropológico, contesta a ligação anglo-eurocêntrica entre amizade e individualismo exacerbado e explora como as práticas de amizade estão inseridas num contexto social mais amplo (Bell e Coleman 1999; Desai e Killick 2010). Os enclaves sociais masculinos, em particular, têm recebido rica atenção etnográfica (Gutmann 1997), com estudos que abordaram práticas distintas de amizade tão variadas quanto a sociabilidade do café (Vale de Almeida 1996) ou o roubo recíproco de animais (Herzfeld 1985). Em segundo lugar, os filósofos políticos têm debatido as maneiras pelas quais a amizade interpessoal pode servir como um modelo normativo para vínculos cívicos ou nacionais na sociedade moderna (Schwarzenbach 1996; Yack 2012). Uma terceira linha de pesquisa para desafiar explicitamente a divisão público-privada pode ser encontrada em estudos culturais feministas que examinam a amizade e a fraternidade masculinas como tropos culturais fundamentais para mobilizar a identificação nacional (Kaplan 2006; Nelson 1998).
Estudos no nível mezzo de clubes sociais e associações cívicas poderiam oferecer uma quarta e potencialmente mais produtiva linha de pesquisa para examinar como a amizade figura não apenas como uma prática corporificada ou um conceito teórico, mas também como uma forma de campo de testes para negociar formas pessoais e colectivas de solidariedade em espaços sociais intermediários entre os domínios doméstico e político.
Craig Calhoun (2007:83) sugere que as associações da sociedade civil são importantes para fundamentar as reivindicações de povoamento e autodeterminação nacional independentemente do poder do Estado. Formando um “reino de sociabilidade”, eles incentivam a integração social, fornecendo às pessoas espaços públicos institucionalmente organizados para negociar a natureza e o curso da sua vida comum. Os antropólogos, no entanto, não seguiram esse modo de investigação. Apesar do rico trabalho etnográfico sobre identidade individual e colectiva em associações fraternas, cívicas ou religiosas, estudos que examinam os laços de amizade de ambos os membros e formas mais amplas de solidariedade são menos comuns (por exemplo, Lyman 1987; Polletta 2002; Summers-Effler 2005; Tavori e Goodman 2009), e as conexões entre os dois níveis de sociabilidade permanecem pouco teorizadas.
Com base neste corpo de literatura altamente diversificado, é necessária uma investigação fenomenológica mais focada, que atenda explicitamente à maneira como os membros dão sentido aos laços colectivos como semelhantes à amizade pessoal e, por sua vez, como eles podem vir a venerar laços concretos de amizade como instâncias de vínculos colectivos. Eu aplico estas questões ao caso da Maçonaria. Como uma ordem fraterna mundial estruturada como uma rede de Lojas de baixo para cima, a sociabilidade maçónica fornece um ambiente institucionalizado para explorar as intersecções de amizade e formas colectivas de solidariedade.
Institucionalizando a fraternidade: a ordem dos maçons
A Ordem dos Maçons adere a uma ideologia explícita de fraternidade, vista como “um sistema de moralidade velado em alegoria e ilustrado por símbolos” (Mackey 1898: 37). Na sua forma moderna, a Maçonaria foi estabelecida em Londres em 1717, quando as Lojas de pedreiros preexistentes admitiram um número crescente de profissionais, aristocratas e intelectuais de classe média e logo evoluiu para um clube social elitista estruturado como uma rede de Lojas fracamente acopladas (Bullock 1996). A mitologia central da Maçonaria remonta ao rei bíblico Salomão e à construção do Primeiro Templo. Cenas dessa mitologia são encenadas e executadas durante a actividade ritual, denominada “trabalho de Loja”, que é acompanhada por metáforas elaboradas do artesanato dos pedreiros herdado das guildas de construtores medievais.
A Maçonaria se espalhou pelo mundo com o advento do imperialismo britânico e francês, formando talvez a primeira rede social de alcance global nos tempos modernos. Margaret Jacob (1991) sugeriu que as Lojas maçónicas na Europa do século 18 forneciam uma rede organizacional que traduzia os ideais teóricos do Iluminismo em práticas tangíveis de sociabilidade. Dentro dos limites seguros das Lojas, homens de diversas origens ocupacionais, religiosas e étnicas podiam praticar um novo vocabulário político democrático, negociando questões de constituição, autogoverno e ordem social. O fraternalismo de estilo maçónico atingiu o seu auge nos Estados Unidos do século XIX, servindo como um modelo organizacional generalizado para movimentos cívicos, profissionais e políticos variáveis (Clawson 1989), às vezes contribuindo para uma co-criação mútua de formas culturais compartilhadas entre grupos hegemónicos e marginalizados na sociedade (Porter 2011). Um crescente corpo de literatura também examinou a participação das mulheres em organizações maçónicas e para-maçónicas em todo o mundo (Heidle e Snoek 2008; Mahmud 2012).
No entanto, os historiadores também enfatizaram as maneiras pelas quais, apesar de uma retórica do humanismo universal, as implicações elitistas e de género do fraternalismo maçónico inevitavelmente levaram a restrições contínuas e variáveis à participação universal. Não apenas as mulheres foram categoricamente excluídas da adesão à Maçonaria convencional, mas também, em certos períodos e regiões, as Lojas locais não aceitaram prontamente homens de grupos marginalizados ou divergentes (católicos, judeus, hindus, etc.). Isto resultou numa compreensão de civilidade de classe alta, anglo centrica e, às vezes, nacionalista (Clawson 1989; Harland-Jacobs 2003; Hoffman 2007).
A Maçonaria como laboratório de intimidade colectiva
Os maçons vêem os laços individuais que formam no que é tecnicamente um clube social como um projecto sagrado que carrega significado colectivo. Já nas Constituições de 1723 (Anderson 1746), a primeira publicação a formalizar e padronizar a prática maçónica, James Anderson observou que “a Maçonaria [é] o centro da união e o meio de conciliar a verdadeira amizade entre as pessoas que de outra forma teriam permanecido a uma distância perpétua” (citado em Snoek 1995: 55). Como os maçons conceberam a amizade como uma união colectiva permanece, no entanto, em grande parte não abordado na rica erudição histórica sobre a Maçonaria.
Ao contrário da maioria das organizações cívicas, a Maçonaria carece de qualquer objectivo instrumental concreto além do exercício da amizade. Além disso, um halo de sigilo restringe o fluxo de informações e reforça a distinção entre membros e não membros. A organização, portanto, opera como um enclave social puro, aparentemente isolado da sociedade maior. Ao mesmo tempo, os seus membros vêem a Maçonaria como um modo de vida que dissemina a virtude cívica para o bem da sociedade em geral. Na ausência de influências externas e instrumentais na sociabilidade dos membros, esse cenário organizacional peculiar poderia fornecer um “laboratório etnográfico” promissor para explorar como os membros estendem a lógica da amizade e da intimidade da sua experiência individual na organização para contextos públicos e colectivos.
Num estudo anterior sobre amizade entre homens israelitas, descrevi espaços espontâneos de “intimidade pública” nos quais confidentes do sexo masculino empregavam publicamente uma linguagem de código bem-humorada e ambígua. Esta encenação produzia intimidade ao provocar e atrair os participantes mais profundamente para a interacção social (Kaplan 2005). Estendendo estas observações da vida quotidiana para o ambiente institucionalizado e organizacional da Maçonaria, proponho uma distinção analítica entre intimidade interpessoal, intimidade pública e intimidade colectiva. Semelhante à distinção de Jeff Weintraub (1997:5) entre uma dimensão de “visibilidade” e “colectividade” na dicotomia privado-público, a intimidade interpessoal normalmente carrega dois sentidos principais: o de uma comunicação privada e exclusivista (associada à revelação de si) e o de um relacionamento pessoal, parcial e particularista (em um ambiente diádico ou de grupo).
A intimidade pública estende a dimensão anterior de visibilidade e comunicação, referindo-se às maneiras pelas quais os laços interpessoais são revelados e comunicados em público. A intimidade colectiva estende, por sua vez, a própria noção de intimidade como uma relação particularista, referindo-se a uma forma de sociabilidade compartilhada colectivamente pelo público. Ele reflecte uma mudança do concreto para o simbólico, de relacionamentos que são tidos como “realmente” familiares para aqueles que são meramente “imaginados” como familiares, como a comunidade mundial imaginada de maçons, ou mesmo a comunidade nacional imaginada.
Curiosamente, os termos público e colectivo são muitas vezes indistinguíveis no uso comum em inglês, enquanto os adjectivos hebraicos equivalentes pumbi (“em público”) e tziburi (“do público”, colectivo) diferenciam facilmente entre essas duas denotações.
Meu uso da intimidade pública e colectiva não deve ser confundido com a discussão seminal de Michael Herzfeld (2005) sobre a discrição nacional em termos de “intimidade cultural”, que examinou como certos costumes colectivos são uma fonte de orgulho e constrangimento nacional. Apesar da semelhança na terminologia e da alusão à divulgação pública, Herzfeld emprega o termo intimidade para interrogar e desestabilizar questões de identidade nacional, consideradas principalmente como inter-relações complexas entre comunidades localizadas e autoridades estatais de nível superior. Em contraste, abordo a intimidade como uma questão de laços interpessoais entre actores locais e como esses laços modelam a solidariedade nacional de nível superior, desviando a atenção dos significados que os actores atribuem aos seus costumes nacionais compartilhados para as interacções que ocorrem entre os actores e os significados que eles atribuem a essas interacções.
A seguir, descrevo como a “arquitectura” social da Loja maçónica estrutura as intersecções da intimidade interpessoal, pública e colectiva. Começo apresentando a Maçonaria israelita e descrevo o ambiente social nas Lojas locais. Em seguida, considero as formulações émicas [1] dos membros de amizade interpessoal, fraternidade e noções relacionadas de “estranhos que se tornaram amigos”. Voltando-me para exemplos de intimidade pública, descrevo como os membros aplicam um elaborado sistema de codificação para encenar interacções interpessoais em público, ao mesmo tempo seduzindo e excluindo públicos não qualificados. A análise final explora instâncias de intimidade colectiva. À medida que os procedimentos administrativos e democráticos das Lojas passam por dramatizações cerimoniais, a justaposição de sociabilidade mundana e rituais sagrados serve para redimensionar a distância entre o pessoal e o colectivo. Concluo sugerindo como essas intersecções de intimidade podem servir de modelo para vínculos colectivos além da Maçonaria.
O caso da Maçonaria israelita
Entre 2006 e 2008, realizei trabalho de campo entre maçons israelitas. Além de declarar meu interesse académico na Maçonaria, expressei curiosidade pessoal em ingressar na Ordem e, após um prolongado período de candidatura, fui admitido na Loja Urim (pseudónimo), localizada no centro de Israel e atendendo a membros judeus. Participei do trabalho formal da Loja e participei da vida social da Loja e das actividades informais [2]. Além disso, foram realizadas 40 entrevistas em profundidade com maçons de Lojas de todo o país e com familiares seleccionados [3].

Os maçons israelitas abstêm-se de anunciar as suas actividades, e novos membros são recrutados principalmente por meio de redes sociais e laços familiares. Ao contrário das suas contrapartes nas Américas, onde o impacto histórico e cultural dos maçons não só é bem documentado, mas também reconhecido publicamente, a cobertura da Comunicação Social sobre a Maçonaria israelita é extremamente escassa e, até o momento, há apenas um estudo académico da história maçónica local (Campos 2005).
A actividade maçónica começou no Oriente Médio a partir do final do século XIX, estimulada pela crescente influência dos interesses coloniais britânicos e franceses na região. Homens de profissões livres e burocratas do Império Otomano encontraram nas Lojas maçónicas oportunidades de realizar networking profissional (Campos 2005). Alguns também se envolveram em activismo político, particularmente aqueles que seguiram a Maçonaria francesa, que assumiu uma posição anticlerical mais activa na busca dos direitos cívicos do que a sua contraparte britânica (Wissa 1989) [4]. Nesta linha, os maçons individuais assumiram um papel proeminente na Revolução dos Jovens Turcos de 1918 (Hanioğlu 1989) e a revolução democrática de 1924 no Egipto (Wissa 1989).
A primeira Loja maçónica na Palestina, embora de curta duração, está documentada como tendo sido fundada em 1873 por missionários evangélicos americanos (Mackey 2003). A actividade maçónica local na Palestina cresceu no início do século 20, com várias Lojas estabelecidas nas cidades de Jaffa, Jerusalém e Haifa.
Os participantes eram principalmente judeus, cristãos e árabes muçulmanos das elites comerciais e sociais locais (Campos 2005). A actividade maçónica aumentou sob o governo do Mandato Britânico, com novas Lojas se formando em todo o país. Porque novas Lojas dependem do reconhecimento de uma Grande Loja Estabelecida, as Lojas locais trabalharam separadamente sob a carta de diversas jurisdições estrangeiras (Fuchs 2003).
Em 1953, após o estabelecimento do Estado de Israel, as Lojas locais se uniram sob a organização guarda-chuva da Grande Loja do Estado de Israel (GLEI). A nova organização foi reconhecida pela Grande Loja da Escócia, apoiada pelas Grandes Lojas Inglesa e Irlandesa (Fuchs 2003). Assim, a GLEI adoptou os princípios ortodoxos da Maçonaria Britânica, entre eles uma crença declarada em Deus (apelidado de “Grande Arquitecto do Universo”) e uma proibição categórica das mulheres de se tornarem membros, embora as esposas dos membros muitas vezes assumissem papéis activos na vida social da Loja e nas actividades de caridade. Actualmente, a GLEI opera cerca de 55 Lojas activas em Israel, consistindo principalmente de membros judeus e uma minoria de membros árabes que são principalmente cristãos (cidadãos israelitas que podem ou não se identificar como palestinos). Enquanto nos seus anos de formação as Lojas locais atraíam principalmente membros dos escalões superiores da sociedade (Campos 2005), nas últimas décadas a adesão tornou-se mais heterogénea e inclui cada vez mais homens de classe média e média baixa.
As actividades da Loja acontecem alternadamente em espaços fechados e semiabertos. Os rituais maçónicos são praticados na sala da Loja, o templo de adoração carregado de ornamentação simbólica que é aberto apenas aos membros. O saguão adjacente à sala da Loja é aberto aos visitantes. Eventos sociais, principalmente o jantar e a palestra “Sessão Branca” que se seguem a cada sessão de trabalho da Loja, acontecem no saguão na companhia das esposas, amigos e candidatos em potencial dos membros. Actividades adicionais ocorrem em público, incluindo jantares em restaurantes, piqueniques familiares de fim de semana e excursões a locais turísticos, bem como actividades de caridade em várias instituições. Espera-se que os membros suspendam quaisquer disputas pessoais ou políticas internas da Loja durante o trabalho da Loja e devem se expressar de acordo com as regras formais de conduta associadas à temperança e polidez (Kieser 1998). Eles devem sentar e ficar em pé em certas posturas, falar de acordo com uma ordem pré-estabelecida e evitar interromper um ao outro. Esta disciplina emocional durante o trabalho da Loja está em total contradição com as maneiras informais que observei durante as reuniões da Sessão Branca e eventos semipúblicos, nos quais comida, bebida e comportamento lúdico proporcionam uma mudança repentina de humor na sociabilidade da Loja.
Como os estudos históricos da Maçonaria, as minhas observações etnográficas na Maçonaria israelita contemporânea revelaram uma preocupação meticulosa com os procedimentos constitucionais e administrativos maçónicos, incluindo processos de tomada de decisão quase democráticos nos quais os membros votavam para admitir novos candidatos, elegiam presidentes de Lojas ou aprovavam as actas de reuniões anteriores. No nível organizacional mais amplo, os presidentes das Lojas de todo o país serviram como representantes oficiais na assembleia geral da GLEI e elegeram o presidente da GLEI (o Grão-Mestre). Os membros são incentivados não apenas a avançar nos graus maçónicos, mas também a assumir papéis cerimoniais, apresentar empregos administrativos ou outros cargos na administração superior e nos braços educacionais da GLEI.
Estas múltiplas posições, algumas das quais podem ser alcançadas logo após ingressar numa Loja, estão abertas em teoria a todos os membros, dependendo da posição e antiguidade. De facto, em Lojas menores, às vezes há mais cargos do que candidatos em potencial para ocupá-los. Estas oportunidades oferecem aos membros experiência prática na Loja e envolvimento organizacional de nível superior. Nisso, eles podem servir de modelo para o engajamento cívico. No caso israelita, eles também ressoam e replicam arranjos sociais hegemónicos na sociedade israelita mais ampla que privilegiam redes masculinas e modos exclusivamente masculinos de participação na vida económica e política.
Intimidade interpessoal: amigos e estranhos que se tornaram amigos
A minha intenção aqui não é descrever como os laços de amizade entre os membros se desenvolveram, se emaranharam ou mesmo se dissolveram – como às vezes podem e se dissolvem – mas, sim, como os membros idealizaram essas amizades e como esses ideais informaram os seus vínculos colectivos. Tecnicamente, mesmo num grupo de 40 membros, uma Loja de tamanho médio, os participantes não podem manter laços estreitos com todos os participantes. Pinhas, um funcionário da administração do GLEI, ilustrou em termos espaciais simples como os laços diádicos e os laços fraternos coexistem nessas circunstâncias:
Há alguns membros que se relacionam mais [com os outros], há alguns que se relacionam menos, mas estamos todos unidos, sem dúvida … não se pode quebrar laços; repare, eu não me posso sentar ao lado de todos; só me posso sentar numa mesa específica … há alguém à minha direita e alguém à minha esquerda, para que eu possa falar com eles. Não posso falar com uma pessoa que se senta numa mesa distante, mas ele ainda é meu irmão.
Neste sentido, os entrevistados certamente fizeram distinções repetidas entre os laços pessoais que compartilhavam com membros específicos da Loja e os laços maçónicos mais amplos. Como nos relatos típicos de amizades pessoais na vida quotidiana, os membros descreveram como as amizades individuais evoluíram por meio de um processo gradual de familiaridade e intimidade crescente. Rami, um membro árabe cristão de uma Loja do Norte, explicou:
Há algumas pessoas com quem nos conectamos mais do que outras, e então o vínculo se desenvolve além dos limites da Loja … Eu conheci este tipo há 11 anos, éramos estranhos … Nós conhecemo-nos por acaso e ele fez-me algumas perguntas [sobre a Ordem], da forma como me está a perguntar agora, e depois de um tempo ele decidiu ingressar … os nossos laços poderiam ter permanecido numa base mais formal, reunindo-se uma vez a cada duas semanas em reuniões de Loja e é isso. Mas, como eu disse, há a atracção pessoal, e hoje tornamo-nos muito próximos, falamos diariamente … então, o relacionamento é muito caloroso, simpático e muito pessoal.
O relato de Rami baseia-se em dois entendimentos tidos como certos sobre relacionamentos íntimos – primeiro, que eles carregam vínculos mais fortes do que os laços colectivos e, segundo, que a transformação de estranhos em amigos é um processo gradual.
No entanto, embora a maioria dos membros com quem conversei reconhecesse essas distinções básicas, os seus relatos também destacaram como a sociabilidade maçónica derrubou algumas dessas restrições sociais. Primeiro, os membros da Loja que não eram amigos íntimos recebiam qualidades associadas à amizade íntima, particularmente em termos de confiança, disponibilidade imediata e apoio. Como Zohar, um membro da Loja Urim, observou:
Sem dúvida, se eu precisar da ajuda de alguém, tenho certeza de que posso confiar nessas pessoas, mesmo aquelas que não sejam realmente minhas amigas. Eu posso pegar o telefone e pedir ajuda e eles fariam o que pudessem… Os maçons estão sempre lá para si, mesmo financeiramente. Sempre que há um problema … Se são 2 da manhã e se está preso em algum lugar ou apenas deprimido e não sabe o que fazer, pode-se sempre pegar no telefone e eles atenderão e tentarão ajudá-lo.
Esta expectativa de apoio activo e disponibilidade imediata reitera um “modelo popular” generalizado de amizade empregado pelos homens israelitas na vida quotidiana. Ele retracta um cenário de disponibilidade total e imediata para o bem dos amigos, que vai desde a ajuda instrumental quando preso na estrada no meio da noite até o apoio emocional em tempos de crise (Kaplan 2006). Culturalmente associados a situações de vida ou morte, os homens israelitas muitas vezes transformam essa lógica nacional-militar hegemónica de emergência num caso de teste para amizades pessoais próximas. O ponto é que os maçons locais aludiram a esse modelo hegemónico não apenas para descrever um vínculo pessoal, mas para ilustrar a essência da fraternidade maçónica. Nisso, eles formaram continuidade entre os aspectos pessoais e fraternos de cuidado e apoio.
Em segundo lugar, além de estender as qualidades associadas à amizade íntima a laços fraternos mais amplos, alguns dos entrevistados descreveram encontros cara a cara com membros desconhecidos que desafiavam o entendimento comum de uma transformação gradual de estranhos em amigos. Em vez disso, a sociabilidade maçónica ocasionou encontros aleatórios que praticamente formaram amizades instantâneas. Rafi, membro de uma Loja em Tel Aviv, lembrou-se de uma dessas reuniões quando, viajando para o exterior, entrou numa casa de banho num aeroporto dos EUA:
O cuidadir era um velho negro. Ele estava parado ali com a sua vassoura e equipamento de limpeza, quando de repente vi no seu dedo um símbolo da Maçonaria … então perguntei-lhe: “O que é esse anel que está a usar?” e ele diz: “são os maçons”. E eu não podia acreditar que essa pessoa, um cuidador de casa de banho, é um Maçom. Como ele se relaciona com isso? … É claro que no final, nos abraçamos e nos beijamos e mantivemos contacto por muitos anos até que ele faleceu. Um advogado e um cuidador de casa de banho. Fiquei surpreso ao descobrir que essa pessoa possuía o mais alto grau na Maçonaria, grau 33 … Foi incrível falar com ele. Todos os rituais são idênticos em todos os países. Não importa o idioma que as pessoas falam. É incrível como se pode andar pela rua e conhecer alguém que se não conhece, e leva apenas 20 segundos para o abraçar e beijar como se fosse seu irmão.
A história de Rafi de ligação instantânea com um cuidador de casa de banho afro-americano com quem ele nunca teria interagido em circunstâncias regulares transmite uma sensação de fascínio sobre como a sociabilidade maçónica pode milagrosamente transformar estranhos em amigos. De facto, a suspensão das fronteiras sociais e a transformação de desiguais em iguais reflecte um princípio moral maçónico central comumente referido como “reunião no nível”, simbolizado pelo nível espiritual usado pelos maçons tradicionais. O relato de Rafi, no entanto, demonstra a natureza de dois gumes dessa moralidade elitista-cívica: primeiro, a presunção paternalista de que homens de certas origens raciais, étnicas ou ocupacionais são menos compatíveis com a filiação maçónica e não têm tanta probabilidade de avançar na hierarquia de graus e, em segundo lugar, uma celebração da propensão maçónica para superar tais barreiras e alcançar a inclusão universal. O senso experiencial de transcendência social instantânea dos membros entre estranhos desiguais é ainda mais aprimorado por sua capacidade de se comunicar em público por meio de um sistema de sinais codificados, como descreverei abaixo.
Intimidade pública: sigilo e comunicação codificada
Embora os maçons contemporâneos enfatizem repetidamente que não são mais uma sociedade secreta (Mahmud 2012), a estrutura organizacional e as normas maçónicas ainda se baseiam no sigilo. Um elaborado sistema de palavras-código e gestos corporais derivados da mitologia maçónica são praticados durante o trabalho ritual. Os novos iniciados se comprometem a não revelar os códigos primários usados para identificação de membros e aprender códigos e simbolismos maçónicos adicionais apenas por meio da participação social sustentada nas actividades da Loja, à medida que sobem gradualmente na hierarquia dos graus. Ao mesmo tempo, os membros habitualmente se comunicam em ambientes públicos ou semipúblicos por meio desse sistema de codificação ou por meio do simbolismo maçónico de forma mais ampla. Além dos códigos de identificação oficiais, os membros costumam usar marcadores visuais discretos, como anéis, relógios ou alfinetes de lapela com o logotipo maçónico universal do Esquadro e do Compasso com a letra G inscrita no centro.
Subjacente a esta comunicação secreta está um mecanismo de inclusão e exclusão moldado por relações complexas entre intimidade, privacidade e sigilo. Um membro me explicou que o sigilo da ordem não tinha nada a ver com o conteúdo dos rituais, que eram exibidos livremente na Internet, mas com o “compromisso” que se desenvolveu entre os membros à medida que administravam o seu conhecimento compartilhado. Em outros, a noção de sigilo se traduz em padrões de sociabilidade e um senso de intimidade dentro do grupo, à medida que os membros negociam – tanto interna quanto externamente – diferentes níveis de acesso ao sistema ritual [5]. Em última análise, o sigilo vincula os membros não apenas privilegiando o seu acesso a um determinado conteúdo e excluindo outros dele, mas também significando e fortalecendo o seu vínculo como íntimo precisamente ao encená-lo publicamente como um segredo. Isso se baseia nos aspectos metacomunicativos do sigilo, a sua dependência de uma declaração pública de que “isso é um segredo” (Bellman 1981). Nesse sentido, o sigilo é efectivamente o oposto da privacidade: é um mecanismo dramatúrgico para proporcionar laços pessoais com significado público.
A comunicação codificada é direccionada tanto para fora quanto para dentro. Externamente, os sinais codificados capturam a curiosidade dos espectadores, enviando-lhes uma mensagem de que estão perdendo alguma coisa. Sharon, um membro sénior de uma Loja no sul de Israel, explicou por que ele sempre usava um anel maçónico:
Porque um dos nossos princípios é estar disponível para os outros. Como saberiam que eu era Maçom se eu não tivesse um sinal? … E serve a outro propósito. Se alguém não faz parte de nós, mas pode ser digno [de ingressar], então assim que eles perguntarem sobre [o anel], eu posso contar a ele sobre o significado desse sinal… Muitas pessoas olham e perguntam sobre isso.
A este respeito, usar em público um sinal maçónico parcialmente velado, como um alfinete ou um anel, torna-se uma estratégia de sedução.
Mas a comunicação codificada na presença de públicos não qualificados também é direccionada internamente, reforçando o senso de inclusão dos membros. Uma noite, participei de um grupo de estudo informal iniciado por membros da Loja Urim para discutir os princípios maçónicos num ambiente descontraído. A reunião ocorreu na casa de um irmão localizada numa cidade da classe trabalhadora. O apartamento estava situado ao nível da rua e relativamente exposto ao ambiente exterior. Um dos membros mais velhos estava constantemente preocupado que os vizinhos ouvissem as nossas conversas animadas. Os participantes garantiram a ele que, mesmo que os vizinhos entendessem o que estávamos dizendo, a nossa conversa continuaria sem sentido para eles. Um membro acrescentou, meio brincando, que ninguém nesta localidade seria capaz de entender as nossas discussões, referindo-se aos habitantes da cidade local em termos depreciativos.
Mais tarde naquela noite, falei com Asaf, um iniciado recente já bem versado na mitologia da Maçonaria. Ele me disse que se ofereceu para dar uma palestra na próxima reunião da Loja, uma cerimónia anual especial que seria realizada na presença das esposas dos membros. Ele planeava discutir o conteúdo maçónico sobre a história do rei Salomão, mas enquadrá-lo de tal maneira que apenas os homens entendessem as conotações maçónicas, enquanto as mulheres permaneceriam alheias a tais significados.
Asaf acrescentou ainda que, se em algum momento durante a sua palestra outros membros desconfiassem da exposição e o avisassem abertamente de que havia mulheres na plateia, as mulheres poderiam começar a perceber que uma mitologia secreta estava sendo transmitida na sua presença. Isso sugere que a principal preocupação de Asaf era interna, em relação aos seus colegas – que o seu desafio em compartimentar a história tinha menos a ver com a questão da exposição do que com as reacções dos seus amigos à suposta ameaça. Em outras palavras, a sua palestra tinha a intenção de provocá-los como uma forma de negociar a sua intimidade na frente de uma plateia.
Subjacente a estes raros momentos em que os segredos são explicitamente expostos e ao mesmo tampo ocultados, há uma lógica generalizada de exclusão encenada, que reforça o senso de inclusão dos membros e se estende à sociabilidade quotidiana da Loja. Como os membros da família e convidados habitualmente participam de eventos sociais informais, os maçons ficam constantemente preocupados com a compartimentalização do conteúdo maçónico. A presença deste público não qualificado provoca continuamente o grupo interno a negociar e reconfirmar a sua intimidade. Também afirma a sua supremacia social, demarcando fronteiras com base em género, classe ou origem cultural. Mesmo quando um público não qualificado não está activamente presente, ele deve ser imaginado (como na referência acima mencionada à espionagem de vizinhos de classe baixa) para que os membros possam encenar publicamente a sua intimidade.
Intimidade colectiva: encenando e confundindo o pessoal e o colectivo
Ao contrário de outros casos históricos em que os maçons estiveram implicados no activismo político associado a lutas cívicas e nacionais, os maçons israelitas evitam qualquer forma de activismo e se apegam a uma política oficial de não envolvimento político de acordo com a tradição maçónica britânica. Ao mesmo tempo, conforme discuti em outro lugar (Kaplan no prelo), os membros israelitas reinterpretaram repetidamente as proibições maçónicas de debates políticos como uma exigência explícita de ser leal ao estado em que se vive. Por sua vez, entre os membros judeus, essa lealdade cívica velava um vínculo colectivo relacionado, mas substancialmente distinto, aos valores nacional-sionistas do estado. A seguir, vou me concentrar nos vínculos colectivos principalmente no nível organizacional, descrevendo como as interacções entre os membros se estendiam além dos laços interpessoais e da comunicação semipública para os laços impessoais que conectavam a Ordem Maçónica como um todo. Também mostrarei, no entanto, como, em alguns casos, esse senso de fraternidade maçónica ofereceu aos membros (muitas vezes inadvertidamente) um modelo experimental para praticar a solidariedade cívica e nacional também.
O seguinte relato de Rami pode fornecer um bom ponto de partida para a experiência da fraternidade no nível organizacional, especialmente quando se vem de um árabe cristão que pode enfrentar barreiras significativas ao participar da sociedade judaico-israelense. Além da sua descrição acima mencionada de uma amizade pessoal com um companheiro Maçom na sua Loja do Norte, Rami observou as reuniões periódicas que ele participou nas reuniões nacionais da GLEI no centro de Tel Aviv:
Aqui vêm e se encontram pessoas de todo o país … Nem sempre estou interessado nos seus primeiros nomes; o vínculo fraterno é o que é interessante. Quando nos encontramos aqui, no nosso local de encontro, não há barreiras; fala-se com os irmãos da maneira mais clara e honesta, no sentido de que confia neles, e a confiança é o princípio fundamental em tudo isso.
Estas noções de confiança e a superação de barreiras durante as interacções no nível organizacional colectivo ecoam relatos anteriores de estranhos que se tornaram amigos no nível interpessoal. Neste sentido, os entrevistados conceberam a solidariedade colectiva maçónica como uma comunidade de estranhos em quem se confia como amigos.
Os rituais maçónicos fornecem um veículo central para forjar esse senso de fraternidade coesa. A observância do rico e elaborado sistema ritual não apenas reforça o sentimento de pertencimento dos participantes a uma tradição de longa data, mas também inscreve significados colectivos de solidariedade nas suas interacções mútuas. John, membro de outra Loja do Norte, comparou explicitamente as funções do ritual às da amizade: “O ritual é um amigo … É uma ferramenta básica [que temos] para nos conectarmos uns com os outros. Se não tivéssemos Rituais, esqueça, o que faríamos? Isso ajuda, caso contrário, não haveria conexão, nada para falar”.
Como a actividade ritual, o locus da experiência sagrada, se equipara a laços de amizade, tipicamente associados à vida quotidiana mundana?
Primeiro, embora grande parte do trabalho da Loja envolva uma sequência de procedimentos essencialmente burocráticos ou administrativos, a sua encenação teatral como uma performance de dramatização serve para estimular as experiências emocionais dos membros e reforça o seu envolvimento organizacional. Alguns membros desempenham papéis cerimoniais elaborados, enquanto outros servem principalmente como público, mas todos recitam roteiros maçónicos e liturgia e se envolvem até certo ponto em dramatizações impregnadas de pompa e cerimónia. Conforme observado em muitos movimentos sociais, as actividades ritualizadas ajudam a transformar as emoções dos membros em solidariedade, entusiasmo e moralidade (Summers-Effler 2005:141).
Mais significativamente, sugiro que esta ritualização e encenação teatral sirvam para redimensionar a distância entre as esferas pessoal e colectiva, entre as preocupações privadas e políticas, muitas vezes diluindo essas mesmas distinções. A vida social maçónica tem como premissa mudanças de humor espaciais e temporais entre o trabalho ritualizado da Loja e a sociabilidade informal, uma reminiscência das maneiras pelas quais as distinções ritualizadas entre o sagrado e o profano fornecem confirmação e veneração de valores colectivos compartilhados por membros da comunidade (Durkheim 1915). Uma propensão semelhante para pausas rápidas entre períodos de adoração e períodos durante os quais os participantes ficam absortos em actividades mundanas foi observada num estudo da vida social da sinagoga, sugerindo correspondências entre esses “envolvimentos inconstantes” durante o ritual e a vida quotidiana colectiva dos ortodoxos americanos modernos.
Os judeus, pois exibem simultaneamente uma lealdade às identidades cívicas e religiosas (Heilman 1982: 14-15). No entanto, na arquitectura social da Loja, essas mudanças emocionais afectam não apenas cada membro como indivíduo, mas também, não menos importante, os laços interpessoais entre os membros, de modo que as amizades pessoais alternam constantemente entre o profano e o sagrado e os dois reinos da sociabilidade tornam-se intimamente ligados. Discuto dois casos em questão: os papéis de governança assumidos pelo presidente da Loja e a forma como os rituais maçónicos prestam homenagem a um amálgama de identificações pessoais e colectivas.
Uma posição central que personifica e exemplifica a liderança estadual é a do presidente da Loja, oficialmente denominado “Venerável Mestre”. Qualquer membro que tenha atingido o terceiro grau de Mestre Maçom pode concorrer oficialmente a este cargo. Hanoch enfatizou a importância do nivelamento social a esse respeito: “um limpador de rua pode se tornar Presidente … de uma Loja local; pessoas trabalhadoras que lutam para sobreviver podem se tornar [presidentes], porque [ser] presidente da Loja não é algo que se compra com dinheiro”. O presidente goza de autonomia significativa no governo da Loja. O sistema de Lojas locais formadas em torno de uma Grande Loja, como no caso da GLEI, é uma estrutura fracamente acoplada baseada na governança de baixo para cima, com cada Loja agindo como uma unidade soberana, um mini estado por direito próprio. Além dos rituais e regulamentos maçónicos estabelecidos, as Lojas são livres para escolher os seus próprios tópicos para discussão durante o trabalho da Loja, moldar o conteúdo e o formato de todos os eventos sociais e lançar projectos de caridade independentes. Dada esta estrutura de baixo para cima, o presidente eleito da Loja detém um mandato para moldar as políticas da Loja por um ano.
Duas observações da Loja Urim ilustram como essa posição administrativa adquire um significado colectivo simbolicamente associado aos assuntos de Estado. Percebi que a esposa do nosso presidente era particularmente activa na gestão das actividades sociais informais ao lado do marido. Durante o trabalho formal da Loja, o presidente normalmente fazia um discurso sobre a filosofia moral maçónica e discutia questões de administração. Então, durante o jantar de Sessão Branca que se seguiu, a sua esposa às vezes fazia os seus próprios discursos, pedindo aos irmãos que se voluntariassem para novos projectos de caridade iniciados pela Loja. Fiquei impressionado com a forma como a sociabilidade da Loja encenou essa divisão de papéis entre eles, uma reminiscência da divisão tradicional na política estadual entre o chefe de estado que lida com a ideologia nacional e os assuntos públicos e a primeira-dama, que muitas vezes lidera iniciativas de caridade. Como o envolvimento das mulheres na caridade permanece constante nesta analogia, ela marca o envolvimento dos homens no ritual da Maçonaria e na administração da Loja como equivalente à política nacional.
Durante outra sessão de trabalho da Loja em Urim, o Grão-Mestre da GLEI fez uma grande entrada como nosso convidado de honra. Vestido com uma capa, avental e colete únicos carregados de fitas e medalhas, ele foi seguido por uma comitiva de irmãos mais velhos. Eles marcharam lentamente em solene majestade enquanto estávamos em homenagem. Lembrei-me do presidente israelita revisando a guarda honorária durante as cerimónias do Dia da Independência. Então, cerca de 50 minutos depois, ele estava sentado com todos nós no saguão do jantar da Sessão Branca, vestido com um terno comum, compartilhando connosco algumas piadas bobas. Assim, embora muitas vezes diferencie o sagrado do profano, a arquitectura da Loja às vezes serve para colapsar essas categorias. O facto de o mesmo indivíduo personificar ambas as condições em um período tão curto de tempo e dentro do mesmo edifício mostra como o reverenciado pode se tornar familiar e o familiar reverenciado.
Outra maneira pela qual o pessoal e o colectivo são reunidos é encontrada em alguns rituais maçónicos comuns que formam uma continuidade suave entre os vínculos pessoais e colectivos. Um exemplo directo é o breve brinde que abre cada jantar de Sessão Branca, uma série de brindes em homenagem ao Presidente do Estado de Israel, ao Presidente da Grande Loja do Estado de Israel, aos representantes na assembleia da GLEI, aos irmãos regulares da Loja Urim e aos novos candidatos à Loja. Por meio desse simples gesto, a identificação interpessoal entre os membros da Loja está ligada à identificação organizacional com os funcionários da ordem e, em última análise, à identificação colectiva com o chefe do Estado-nação. Mais uma vez, todos os níveis de identificação são infundidos com uma qualidade dupla de reverência, por um lado, e familiaridade, por outro lado.
Uma justaposição semelhante do pessoal com o colectivo emerge num ritual central que celebra explicitamente o ideal maçónico de fraternidade – a “Cadeia de União” (também chamada de “Cadeia de Irmãos”). É realizada no encerramento de cada trabalho da Loja. Os participantes se reúnem no centro da sala da Loja formando uma moldura circular. Cada irmão cruza os braços e dá as mãos aos seus dois vizinhos, a sua mão direita segurando a mão esquerda do vizinho à esquerda, enquanto a sua mão esquerda segura a mão direita do vizinho à direita. O ritual representa uma transformação da sociabilidade das interacções concretas entre os membros da Loja para a conexão abstracta entre a fraternidade mundial dos maçons. À medida que os irmãos entrelaçam as mãos, eles evocam uma imagem dessa entidade colectiva como um corpo coeso, harmónico e unificado.
Enquanto os membros da Loja realizam a Cadeia de União, o presidente da Loja faz um breve discurso relacionado à fraternidade. O tema do discurso pode variar a cada reunião. Numa ocasião, um dos participantes pediu que acrescentássemos um apelo especial pelo retorno dos “israelenses sequestrados”, referindo-se ao soldado Gilad Shalit, que estava sendo mantido em cativeiro em Gaza na época e despertou preocupação nacional e extensas demonstrações de solidariedade pública. Outro membro nos disse que o filho de um amigo próximo tinha ficado gravemente ferido num acidente de carro e pediu que incluíssemos o seu nome no nosso apelo maçónico. Promulgados conjuntamente durante a Cadeia de União, esses gestos conectavam o cuidado de um conhecido pessoal e o cuidado de uma figura nacional de solidariedade e associavam ambos ao sentimento universal de fraternidade. Desta forma, novamente, o familiar tornou-se reverenciado e o reverenciado familiar, desmoronando a distinção entre o pessoal e o colectivo.
Além disso, o gesto para o soldado israelita cativo deve ser entendido à luz da preocupação de Israel com os soldados cativos e desaparecidos, que se transformou num culto nacional de comemoração e demonstração pública de solidariedade (Kaplan 2008). Incorporar este exemplo prototípico de uma política nacional de amizade no trabalho ritual da Loja demonstra não apenas como a política sionista permeia a vida social da Loja, como seria de esperar entre os membros judeus-israelenses, mas também como o simbolismo maçónico oficial da fraternidade inadvertidamente santifica a compreensão dos membros sobre os vínculos cívicos e nacionais.
Só tomei conhecimento disso depois de outro incidente na Loja sobre o apoio aos militares israelitas. Num dos sermões presidenciais que concluíram o trabalho da Loja, o nosso presidente pregou sobre a participação maçónica e cívica. Depois de fornecer algumas histórias exemplares de indivíduos que contribuíram para a sociedade, ele trouxe à tona um exemplo negativo de trapaceiros do serviço militar, que estavam no centro do debate público depois que se descobriu que cantores de celebridades locais num reality show teriam escapado do recrutamento militar israelita. Um debate animado começou entre os membros da Loja, quando muitos se reuniram para falar contra os trapaceiros militares. Um membro observou outros grupos que desobedeceram às ordens militares, lembrando um evento do início daquele dia em que soldados judeus religiosos se recusaram a participar do despejo forçado de duas famílias judias que se estabeleceram em território palestino na cidade de Hebron. Ele evitou os seus comentários, no entanto, dizendo que não gostaria de comentar sobre uma questão política.
Desta vez, então, os aspectos políticos do serviço militar não passaram completamente despercebidos. De facto, um amigo da Loja me ligou no final daquela semana para trocar opiniões sobre o evento, preocupado com o facto de uma questão política controversa ter sido levantada durante o trabalho ritual. Nós dois nos perguntamos se a comemoração de soldados durante uma cerimónia maçónica oficial não estava num continuum com o debate do serviço militar. Todas estas questões não eram eventualmente políticas? Tentei pensar como árabe.
Os maçons, oficialmente isentos do serviço militar em Israel devido às suas potenciais lealdades palestinas, responderiam a essa consagração de participação militar. O debate inesperado durante o sermão do presidente apenas expôs o que o gesto para os soldados cativos durante a Cadeia de União escondia: à medida que os membros avançavam explicitamente em questões de lealdade ao Estado e participação cívica em e por meio de práticas maçónicas formais, eles concomitantemente sancionavam os valores nacionais locais. Por sua vez, esse apego nacional despolitizado passou despercebido precisamente por causa da maneira como os membros locais estavam preocupados com a prevenção de controvérsias políticas explícitas.
Para concluir, os exemplos cerimoniais de brindes da Sessão Branca e rituais da Cadeia de União ilustram como os rituais maçónicos são projectados para conectar o pessoal e o colectivo, o individual e o nacional (despolitizado), todos infundidos com uma aura de santidade. Além disso, as escolhas e gestos espontâneos feitos pelos próprios membros da Loja ao encenar e interpretar os rituais revelam como essa justaposição de sociabilidade mundana e sacralidade é reproduzida por meio de iniciativas de baixo para cima. Por meio desta encenação teatral e redimensionamento da sociedade maior para uma Loja de tamanho médio de 40 membros, a burocracia e a cerimónia são reunidas, atribuindo significado cívico e nacional aos procedimentos administrativos da Loja e, por sua vez, conferindo santidade maçónica à política cívica e nacional. Desta forma, a vida social da Loja e as interacções organizacionais maçónicas mais amplas oferecem a cada membro experiência prática em se tornar burocrata, cidadão, padre e presidente, tudo num. É talvez por meio dessa compreensão experiencial que a intimidade exclusiva da vida cívica e nacional possa ser mais bem sentida.
Discussão
Apresentei a estrutura da “intimidade colectiva” para explorar como os sentimentos de amizade e fraternidade são experimentados numa instituição social de médio porte de maneiras que podem negociar distinções entre as esferas privada e pública. Com base num estudo de caso da Maçonaria israelita, descrevi como o senso de amizade pessoal dos membros e de estranhos que se tornaram amigos é estruturado pela arquitectura social maçónica e como isso se estende tanto à intimidade pública quanto colectiva. Primeiro, os membros aplicam um elaborado sistema de codificação para compartimentar o conteúdo maçónico de públicos não qualificados. Esta comunicação secreta é direccionada tanto externamente, para seduzir pessoas de fora a comparecer, quanto internamente, para reafirmar a intimidade dos membros diante de públicos excluídos. Quando maçons desconhecidos se encontram e aplicam essa comunicação codificada, isso gera sentimentos de estranhos que se tornaram amigos.
Em segundo lugar, os membros se envolvem em práticas administrativas e democráticas que passam por dramatização cerimonial derivada da mitologia maçónica. A encenação teatral desses procedimentos essencialmente burocráticos não apenas estimula o envolvimento dos participantes, mas também serve para redimensionar a distância que eles percebem entre o pessoal e o colectivo. Isso foi ilustrado nos rituais que combinam suavemente vínculos pessoais e colectivos, como o brinde e a Cadeia de União. O cerimonial oficial e o mundano pessoal tornaram-se intimamente ligados, cada um adquirindo uma aura de familiaridade e reverência. Isso ajuda a explicar como a participação individual no que é tecnicamente um clube social é experimentada por colegas maçons como um projecto político-moral de significado colectivo.
As categorias analíticas de intimidade interpessoal, pública e colectiva podem se cruzar, se sobrepor e, às vezes, entrar em colapso. Isso fica claro quando se tenta mapear as mudanças espaciais e temporais entre o trabalho formal da Loja e as interacções informais da Loja na divisão público-privada. A reunião oficial e cerimonial na sala da Loja pode se assemelhar à esfera pública da política e do estado. Mas é público apenas no sentido de simular um corpo colectivo, não no sentido de exibir e expor as preocupações do público. Pelo contrário, como os regulamentos maçónicos proíbem discussões conflituosas de política ou religião e, além disso, os membros da Loja se abstêm de levantar disputas organizacionais internas, o trabalho da Loja é purificado de negociações políticas. Em vez disso, estas negociações ocorrem principalmente durante os jantares da Sessão Branca e outros eventos sociais sob a estrutura de sociabilidade informal, fofocas pessoais e relações de brincadeira.
A sala de reunião da Loja, portanto, surge como o espaço mais privado da organização, secreto e oculto, e o mais colectivo, promovendo uma intimidade compartilhada por todos os membros da Loja. A assembleia purificada, disciplinada, livre de conflitos e despolitizada torna-se um emblema da intimidade colectiva. Como os rituais do estado-nação, amplia a qualidade da “unissonância altruísta” experimentada durante as cerimónias nacionais (Anderson 1991: 145) e apresenta uma ordem moral de unidade e singularidade (Handelman 2004).
Ao contrário da atmosfera de inclusão promovida por este espaço sagrado de intimidade colectiva, os espaços seculares e as interacções mundanas da vida quotidiana fornecem uma arena para encenar as funções excludentes da intimidade pública. Como o sigilo é constantemente exibido em público, ele forma um mecanismo de geração de fronteiras em várias camadas, ao mesmo tempo seduzindo e excluindo grupos externos para sustentar e alimentar a experiência do grupo. Enquanto instâncias puras de intimidade colectiva eliminam a distinção privado-público ao imaginar um todo unificado, a intimidade pública medeia e diferencia o pessoal do colectivo ao celebrar a divisão público-privada.
Sugiro que estas intersecções de intimidade nas Lojas maçónicas podem informar a nossa compreensão de vínculos colectivos, como solidariedade nacional e cívica. Os sentimentos de amizade projectam um senso de confiança, disponibilidade e familiaridade, mas também de privilégio, parcialidade e exclusividade que correspondem aos aspectos particularistas e preferenciais da nacionalidade e da cidadania. Embora esotéricos e secretos, os clubes maçónicos eram associações cívicas historicamente influentes (Jacob 1991). Como os membros podiam assumir os papéis simbólicos de um cidadão, um burocrata, um padre e um presidente quase simultaneamente, a sociabilidade da Loja oferecia a eles uma compreensão experiencial da concepção nova e aparentemente abstracta do “povo”, o novo soberano popular do estado-nação (Yack 2012). Central para a noção de pessoas autónomas não é apenas um senso de agência subjectiva, mas também de transparência entre os indivíduos e o colectivo (Gaonkar 2002). Esta transparência é possibilitada pelos tipos de práticas e rituais organizacionais encontrados na Maçonaria – aqueles que dissolvem distinções entre laços pessoais e formas colectivas de solidariedade.
Dada a centralidade da amizade fraterna como um tropo cultural na sociedade israelita e os seus rituais de comemoração (Kaplan 2006), pode-se argumentar que as correspondências entre os ideais maçónicos de fraternidade e os vínculos cívicos e nacionais dos membros podem reflectir principalmente a difusão dessa cultura nacional nas suas vidas. Ao mesmo tempo, deve-se ter em mente que, ao contrário dos modelos clássicos “ocidentais” de nacionalismo, Israel subscreve principalmente uma formulação étnica-judaica em vez de cívica de nacionalismo (Rouhana e Ghanem 1998). O modelo étnico tem como premissa uma retórica de parentesco herdado e laços de sangue, em vez de uma retórica de amizade (voluntária) (Kaplan 2007). Os maçons israelitas locais não são, portanto, tão propensos a experimentar e destacar a conexão entre amizade e laços cívicos como, digamos, os seus colegas americanos, e quando o fazem, isso pode ser mais facilmente atribuído à sua afiliação maçónica do que à sua orientação cultural-nacional localizada.
Proponho a estrutura da intimidade colectiva como uma estratégia de pesquisa programática para estudar a solidariedade cívica e nacional através do prisma da sociabilidade, um prisma ausente nos estudos actuais. Em particular, essa estrutura aborda uma questão que permaneceu pouco teorizada na discussão de Anderson (1991) sobre comunidades imaginadas e em formulações relacionadas de imaginários sociais (Taylor 2004) – a saber, a relação recursiva entre laços interpessoais concretos e significados colectivos simbólicos. Indo além da observação histórica de que os laços interpessoais gradualmente se transformaram em vínculos entre outros distantes, essa estrutura apresenta uma investigação fenomenológica, perguntando como a amizade pode modelar os laços colectivos, de modo que outros distantes venham a experimentar os seus laços como semelhantes aos laços interpessoais e, por sua vez, como o colectivo pode modelar os laços interpessoais, de modo que as interacções concretas se tornem santificadas em nome de ideologias cívicas ou nacionais.
Eu referi-me intencionalmente à Maçonaria ao longo desta discussão como um “modelo para” em vez de um “modelo de” sociabilidade colectiva. Ao fazê-lo, sigo a tipologia de eventos públicos de Don Handelman (1990: 23-24). Primeiro, as práticas organizacionais maçónicas incorporam o know-how dos vínculos colectivos, mas não necessariamente o conhecimento de tais vínculos. Em segundo lugar, a Maçonaria “modela o mundo vivido”, oferecendo um “padrão em miniatura” que representa a sociedade maior, não porque necessariamente compartilha com ela um conjunto distinto de características, mas porque incorpora “padrões de relacionamentos” semelhantes – ou seja, as intersecções propostas de intimidade. Finalmente, o principal objectivo da Maçonaria na modelagem de aspectos do mundo vivido é intervir e mudar a ordem social existente; neste sentido, as suas intenções são “transformadoras” (Handelman 1990: 31).
Tal interrogação da intimidade colectiva poderia ser empregue além da Maçonaria a diversas instituições e organizações de médio alcance – seja em ambientes cívicos, governamentais e até comerciais – que explícita ou implicitamente empregam laços interpessoais como padrões em miniatura para vínculos colectivos. Exemplos aparentes seriam versões modificadas contemporâneas da sociabilidade de clubes sociais, tais como parlamentos (Crewe 2010), associações juvenis (Lainer-Vos nd) ou movimentos feministas (Polletta 2002) que fazem afirmações explícitas sobre representação ou simulação das esferas cívica ou nacional. A estratégia de pesquisa proposta também pode ser aplicada a processos institucionais subjacentes a festivais, eventos públicos (Handelman 2004) e eventos de comunicação social (Dayan e Katz 1992) projectados para mobilizar a experiência interpessoal directa ou mediada dos participantes para estimular a solidariedade em massa. Um exame mais detalhado de como as práticas incorporadas de sociabilidade mudam em tais casos entre interacções face a face e vínculos colectivos nos permitiria entender melhor como as intersecções propostas de intimidade interpessoal, pública e colectiva redimensionam e, às vezes, derrubam as distinções entre o pessoal e o colectivo.
Agradecimentos
Sou muito grato aos meus amigos e irmãos maçons que compartilharam comigo as suas experiências e pensamentos sobre a vida social maçónica. Agradeço a todos os alunos que participaram de meus seminários de pesquisa sobre sociedades fraternas por sua contribuição para este projecto, e sou grato a Irit Dekel, Nadav Gabay, Yoni Kupper e meus colegas do departamento de sociologia e antropologia da Universidade Bar Ilan por seu valioso apoio e comentários sobre os rascunhos anteriores do artigo. Finalmente, gostaria de agradecer ao editor da American Anthropologist, Mike Chibnik, à editora-chefe Mayumi Shimose e aos revisores anónimos por seus comentários generosos e construtivos sobre o manuscrito.
Danny Kaplan – Departamento de Sociologia e Antropologia, Universidade Bar Ilan
Adaptado de tradução feita por José Filardo
Fonte
Fonte Original
Notas
[1] A formulação émica refere-se a uma abordagem de pesquisa que busca entender um grupo social ou uma cultura a partir da perspectiva interna daquele grupo. Em outras palavras, é uma maneira de investigar como as pessoas dentro de uma cultura percebem e categorizam o mundo, as suas regras de comportamento, o que tem significado para elas e como explicam as coisas
[2] Como a Maçonaria é caracterizada por uma cultura organizacional de aprendizagem e os membros são encorajados a buscar activamente o conhecimento sobre a ordem, a minha própria posição como membro e pesquisador não foi particularmente notável. À medida que gradualmente mudei de um participante passivo e moderado para um participante activo e completo (Spradley 1980), pude aprender não apenas com as experiências dos homens que observei, mas também com as minhas próprias (Nelson 1986: 9). Embora eu não me identificasse com certas atitudes transmitidas ao meu redor, particularmente no que diz respeito à exclusão das mulheres, após a iniciação oficial, senti um apego mais forte aos meus colegas membros da Loja.
[3] Os entrevistados em outras Lojas foram escolhidos de modo a reflectir diversas idades, origens étnicas e religiosas. Algumas entrevistas foram conduzidas por meus alunos que participaram de um seminário de pesquisa sobre sociedades fraternas durante o Inverno e a Primavera de 2006. Todas as citações apresentadas no estudo são retiradas do material da entrevista. Os nomes são substituídos por pseudónimos e os detalhes de identificação foram omitidos.
[4] Um cisma histórico ocorreu entre a obediência maçónica francesa pós-revolucionária do Grande Oriente da França e a Maçonaria britânica dominante depois que a primeira excluiu a crença em Deus dos seus princípios maçónicos.
[5] Talvez por esta razão, os defensores recentes da Maçonaria tendem a substituir a noção de sigilo pela de privacidade (Gunn 2008). Para uma discussão mais ampla, ver a análise de Mahmud (2012) sobre a discricionariedade na Maçonaria e o estudo de Herzfeld (2009) sobre as transformações no desempenho do sigilo e da privacidade em espaços urbanos.
Referências
- Anderson, Benedict 1991 [1983] Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso.
- Anderson, James, ed. 1746 The History and Constitutions of the Most Ancient and Honourable Fraternity of Free and Accepted Masons. London: J. Robinson.
- Bell, Sandra, and Simon Coleman, eds. 1999 The Anthropology of Friendship. Oxford: Berg.
- Bellman, Beryl L. 1981 The Paradox of Secrecy. Human Studies 4:1-24.
- Bullock, Steven C. 1996 Revolutionary Brotherhood: Freemasonry and the Transformation of the American Social Order, 1730-1840. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Calhoun, Craig 2007 Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream. New York: Routledge.
- Campos, Michelle 2005 Freemasonry in Ottoman Palestine. Jerusalem Quarterly 22-23:37-62.
- Clawson, Mary Ann 1989 Constructing Brotherhood: Class, Gender, and Fraternalism. Princeton: Princeton University Press.
- Crewe, Emma 2010 Anthropology of the House of Lords: Socialisation, Relationships and Rituals. The Journal of Legislative Studies 16(3):313-324.
- Dayan, Daniel, and Elihu Katz 1992 Media Events: The Live Broadcasting of History. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Desai, Amit, and Evan Killick, eds. 2010 The Ways of Friendship: Anthropological Perspectives. New York: Berghahn.
- Dumont, Paul 2005 Freemasonry in Turkey: A by-product of Western penetration. European Review, 13(3):481-493.
- Durkheim, Émile 1915 The Elementary Forms of the Religious Life. London: Allen and Unwin.
- Fuchs, Ephraim, ed. 2003 Jubilee Book of the Grand Lodge of the State of Israel of Ancient Free and Accepted Masons. Tel Aviv: Grand Lodge of the State of Israel.
- Gaonkar, Dilip Parameshwar 2002 Toward New Imaginaries: An Introduction. Public Culture 14(1):1-19.
- Giddens, Anthony 1991 Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press.
- Gunn, Joshua 2008 Death by Publicity: U.S. Freemasonry and the Public Drama of Secrecy. Rhetoric and Public Affairs 11(2):243-278.
- Gutmann, Matthew C. 1997 Trafficking in Men: The Anthropology of Masculinity. Annual Review of Anthropology 26:385-409.
- Handelman, Don 1990 Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events. Cambridge: Cambridge University Press. 2004 Nationalism and the Israeli State: Bureaucratic Logic in Public Events. Oxford: Berg.
- Hanioğlu, M. Şükrü 1989 Notes on the Young Turks and the Freemasons, 1875-1908. Middle Eastern Studies 25(2):186-197.
- Harland-Jacobs, Jessica 2003 All in the Family: Freemasonry and the British Empire in the Mid- Nineteenth Century. Journal of British Studies 42(4):448-482.
- Heidle, Alexandra, and Jan A. M. Snoek, eds. 2008 Women’s Agency and Rituals in Mixed and Female Masonic Orders. Leiden: Brill.
- Heilman, Samuel C. 1982 Prayer in the Orthodox Synagogue: An Analysis of Ritual Display. Contemporary Jewry 6(1):2-17.
- Herzfeld, Michael 1985 Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountain Village. Princeton: Princeton University Press. 2005 Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. New York: Routledge. 2009 The Performance of Secrecy: Domesticity and Privacy in Public Spaces. Semiotica 175:135-162.
- Hoffmann, Stefan-Ludwig 2007 The Politics of Sociability: Freemasonry and German Civil Society, 1840-1918. Tom Lampert, trans. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Jacob, Margaret C. 1991 The Enlightenment Redefined: The Formation of Modern Civil Society. Social Research 58(2):475-495.
- Kaplan, Danny Public Intimacy: Dynamics of Seduction in Male Homosocial Interactions. Symbolic Interaction 28(4):571-595. The Men We Loved: Male Friendship and Nationalism in Israeli Culture. New York: Berghahn. What Can the Concept of Friendship Contribute to the Study of National Identity? Nations and Nationalism 13(2):225-244. Commemorating a Suspended Death: Missing Soldiers and National Solidarity in Israel. American Ethnologist 35(3):413-427. forthcoming Freemasonry as a Playground for Civic Nationalism. Nations and Nationalism.
- Kieser, Alfred 1998 From Freemasons to Industrious Patriots: Organizing and Disciplining in 18th-Century Germany. Organization Studies 19(1):47-71.
- Lainer-Vos, Dan N.d. Simulating the Nation: The Production of Zionist Identification in a Jewish American Summer Camp. Unpublished MS, Department of Sociology, University of Southern California.
- Lyman, Peter 1987 The Fraternal Bond as a Joking Relationship: A Case Study of the Role of Sexist Jokes in Male Group Bonding. In Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity. Michael Kimmel, ed. Pp. 148-163. Sage Focus Editions series. Newbury Park: Sage.
- Mackey, Albert G. 2003 [1873] Freemasonry in Jerusalem. In Mackey’s National Freemason October 1872 to September 1873. Albert G. Mackey, auth. Pp. 585-593. Whitefish, MT: Kessinger. Mackey, Albert G. 1898. A Manual of the Lodge. New York: Maynard, Merrill & Co. Mahmud, Lilith 2012 “The World is a Forest of Symbols”: Italian Freemasonry and the Practice of Discretion. American Ethnologist 39(2):425-438.
- Nelson, Dana D. 1998 National Manhood: Capitalist Citizenship and the Imagined Fraternity of White Men. Durham: Duke University Press.
- Nelson, Richard K. 1986 Hunters of the Northern Forest: Designs for Survival among the Alaskan Kutchin. Chicago: University of Chicago Press.
- Polletta, Francesca 2002 Freedom Is an Endless Meeting: Democracy in American Social Movements. Chicago: University Press.
- Porter, Joy 2011 Native American Freemasonry: Associationalism and Performance in America. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Rouhana, Nadim, and As’adGhanem 1998 The Crisis of Minorities in Ethnic States: The Case of Palestinian Citizens in Israel. International Journal of Middle East Studies 30(3):321-346.
- Schwarzenbach, Sibyl A. 1996 On Civic Friendship. Ethics 107(1):97-128.
- Silver, Allan 1990 Friendship in Commercial Society: Eighteenth-Century Social Theory and Modern Sociology. American Journal of Sociology 95(6):1474-1504.
- Snoek, Jan 1995 Similarity and Demarcation. In Pluralism and Identity: Studies in Ritual Behaviour. Jan Platvoet and Karel van der Toorn, eds. Pp. 53-68. Leiden: Brill.
- Spradley, James P. 1980 Participant Observation. New York: Holt, Rinehart and Winston. Summers-Effler, Erika 2005 The Emotional Significance of Solidarity for Social Movement Communities. In Emotions and Social Movements. Helena Flam and Debra King, eds. Pp.135-149. New York: Routledge.
- Tavory, Iddo, and Goodman, Yehuda C 2009 “A Collective of Individuals”: Between Self and Solidarity in a Rainbow Gathering. Sociology of Religion 70(3):262-284.
- Taylor, Charles 2004 Modern Social Imaginaries. Durham, NC: Duke University Press.
- Vale de Almeida, Miguel the Hegemonic Male: Masculinity in a Portuguese Town. New Directions in Anthropology, 4. Providence: Berghahn.
- Weintraub, Jeff The Theory and Politics of the Public/Private Distinction. In Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a Grand Dichotomy. Jeff Weintraub and Krishan Kumar, eds. Pp. 1-42. Chicago: University of Chicago Press.
- Wissa, Karim 1989 Freemasonry in Egypt, 1798-1921: A Study in Cultural and Political Encounters. Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies) 16(2):143-161.
- Yack, Bernard 2012 Nationalism and the Moral Psychology of Community. Chicago: University of Chicago Press.